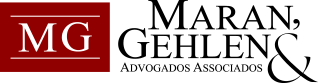A cultura judicial anterior à Emenda Constitucional 45/2004, pautada na indesejável sofisticação da justiça e em seus demasiados formalismos, impunha ao juiz brasileiro esmerar-se na qualidade de suas decisões e, consequentemente, desprezar a quantidade, acarretando numa excessiva demora na prestação jurisdicional.
A intenção era prolatar sentenças tecnicamente perfeitas, as quais, na maioria das vezes, eram distantes de uma efetiva solução aos problemas concretos, limitando-se à formulação de respostas processuais – ou procedimentais – que somente punham termo ao processo.
O exercício da função de juiz tem um enorme impacto na vida das partes envolvidas. Isso sem contar com os efeitos indiretos à sociedade, à economia e à política. Com a maior difusão de informações e a maior facilidade de se entrar em contato com a legislação, a atuação judicante passou a ser questionada. Muito disso se dá pela “demora” na prestação e resposta jurisdicional.
O envolvimento emocional das partes, unida ao imediatismo e a rapidez em que a sociedade se desenvolve após o advento das tecnologias, acabou por torná-las completamente avessas a qualquer tipo de morosidade.
A vinda da referida Emenda, então, acabou por demonstrar o reconhecimento, por parte do constituinte reformador, no sentido de que uma sociedade de massa – a qual gera conflitos também massivos – não pode continuar a oferecer os préstimos de uma justiça artesanal[1]. O dinamismo social atual pugna por uma Justiça capaz de se adequar ao seu ritmo, garantindo-lhe as ferramentas necessárias para a efetiva concretização do justo – em tempo razoável.
Nesta senda, a Emenda Constitucional 45/2004 surge, também, com o intuito de garantir a celeridade processual, adicionando o status de direito fundamental à duração razoável do processo. Tal entendimento constitucional, por óbvio, acabou sendo acompanhado pelos dispositivos legais infraconstitucionais, dentre eles, o Código de Processo Civil que, em sua última edição, apresentou instrumentos que podem servir para concretizar o direito fundamental à razoável duração do processo.
Dentre os instrumentos apresentados pelo CPC, Fredie Didier destaca: “a) representação por excesso de prazo, com a possível perda da competência do juízo em razão da demora (art. 235, CPC); b) mandado de segurança contra a omissão judicial, caracterizada pela não prolação da decisão por tempo não razoável, cujo pedido será a cominação de ordem para que se profira a decisão; c) se a demora injusta causar prejuízo, ação de responsabilidade civil contra o Estado, com possibilidade de ação regressiva contra o juiz; d) a EC n. 45/2004 também acrescentou a alínea “e” ao inciso II do art. 93 da CF , estabelecendo que não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal , não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; e) a reclamação por usurpação de competência também pode ser utilizada, quando a usurpação se dá por atos omissivos”[2].
É certo, então, que a partir de tais alterações no ordenamento jurídico, a visão do que seria um atuante processual ético também se alterou. O juiz ético tornou-se aquele que procura contribuir para essa aceleração na prestação. Trata-se, basicamente, de reconhecer o verdadeiro problema que a sociedade enfrenta atualmente (com a demanda jurisdicional acumulada) e priorizá-lo acima de qualquer vaidade técnica.
Há de se considerar, portanto, que o novo entendimento trazido à Carta Magna concedeu uma maior discricionariedade ao juíz, posto que, agora, ele é motivado – pela própria Constituição – a impulsionar o feito de maneira mais dinâmica, sendo permitido, inclusive, que ele reduza etapas da tramitação que entenda serem desnecessárias a alguns casos.
É neste contexto que se questiona o quanto a qualidade da prestação jurisdicional – e, consequentemente, a segurança jurídica – estão sendo colocadas à mercê do tempo da justiça. Isso porque a celeridade, por mais que contribua para a pacificação dos conflitos sociais pode, em certa medida, se contrapor à ampla defesa.
Outro questionamento a ser feito, igualmente válido, é acerca do que se consideraria um tempo razoável para a solução dos diferentes litígios – e quem teria a competência para determiná-lo. Isso porque nenhum dispositivo legal se preocupou em fixar um lapso temporal fixo para tramitação processual, tarefa que seria demasiadamente complexa e certamente colocaria em risco a segurança jurídica.
Entende-se, então, que somente a jurisprudência precisará o que significa razoável duração do processo. Neste sentido, Paulo Hoffman pontua que, “para a definição de prazo razoável, não (…) parece adequado qualquer outro critério que não a análise de cada caso concreto, tal qual o excelente critério da posta in gioco, estabelecido pela Corte Europeia dos Direitos do Homem, que, como já afirmado, julga a infração ao direito do término do processo em prazo razoável e sem dilações indevidas e o próprio valor da indenização com base nos seguintes critérios: a) complexidade do caso; b) comportamento das partes; c) atuação dos juízes, dos auxiliares e da jurisdição”[3].
Quanto o eventual risco à segurança jurídica diante da celeridade da justiça, José Renato Nalini apresenta um interessante apontamento: considerando que o Poder Judiciário se encontra abarrotado pela alta demanda, seria justificável que as primeiras instâncias priorizassem a rapidez na prestação jurisdicional, enquanto os Tribunais de instâncias superiores, quando necessário, se preocupassem tão somente em aperfeiçoar o mérito da decisão à luz do ordenamento jurídico.
Frise-se, além disso, que a segurança jurídica estaria sendo muito mais afetada caso não houvesse qualquer resposta dos órgãos judiciais (que estariam se ocupando em fornecer uma decisão “perfeita” para cada demanda do que com uma tramitação mais discricionária, porém, mais célere e efetiva).
Nada obstante, ao tratar da Ética Profissional do Advogado, Nalini apresenta o conceito de estrutura cooperatória, levando em consideração que “o advogado não pode perder de vista que o juiz é responsável por milhares de processos, não se resumindo a impulsionar e a decidir aquele de seu interesse”[4].
Assim, a estrutura cooperatória baseia-se na necessidade de todos aqueles envolvidos no processo (partes, juiz e até o Ministério Público) serem igualmente protagonistas e responsáveis pela concretização do justo, envolvendo-se na missão de realizar a justiça, exatamente no sentido do que determina o Princípio Geral de Cooperação, apresentado pelo Código de Processo Civil de 2015.
Desta forma, entende-se não ter sido coincidência o CPC apresentar o conceito de duração razoável do processo juntamente com a boa-fé processual e a cooperação das partes.
Isso porque os três conceitos guardam uma complementariedade entre si: o comportamento consoante a boa-fé e a cooperação são condutas que convergem para o alcance da solução do conflito em tempo razoável.
É por esse motivo que o Código de Processo Civil de 2015 prevê, inclusive, a possibilidade de o juiz punir as partes que incorrerem em atos procrastinatórios, aplicando multas por litigância de má-fé como forma de coibir qualquer tentativa de protelar o feito.
Conclui-se, então, que a celeridade e a justiça compõem um binômio que exige delicado equilíbrio. De um lado, muita celeridade implicaria em procedimentos que, eventualmente, gerariam resultados injustos. De outro, o excesso de garantias gera procedimentos ineficazes e injustos, porque intermináveis.
Por essa razão, o Princípio da Razoável Duração do Processo deve ser compreendido sempre em conjunto com as garantias processuais, a fim de assegurar não apenas a prolação de uma decisão em tempo razoável, mas que o conteúdo dessa decisão seja adequado e justo.
Escrito por Paulo Henrique Piccione Cordeiro (OAB/PR 102.997) e Laura Cancela da Cruz
[1] NALINI, José Renato. Ética geral e profissional – pág. 423
[2] DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 125-126.
[3] PAULO HOFFMAN, Razoável duração do processo, p. 219
[4] NALINI, José Renato – Ética Geral e Profissional, pág. 376